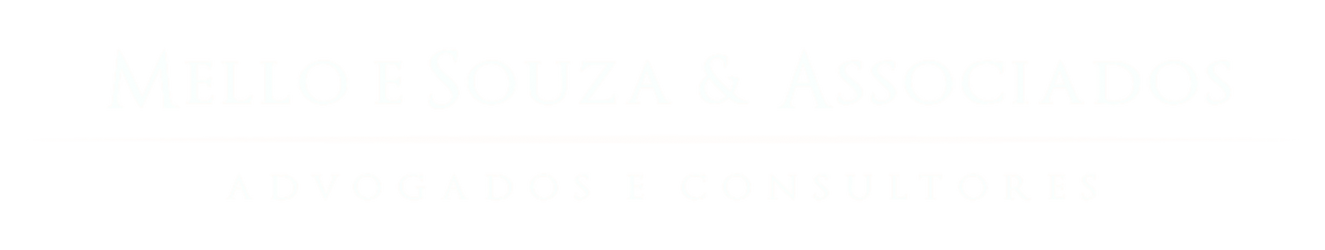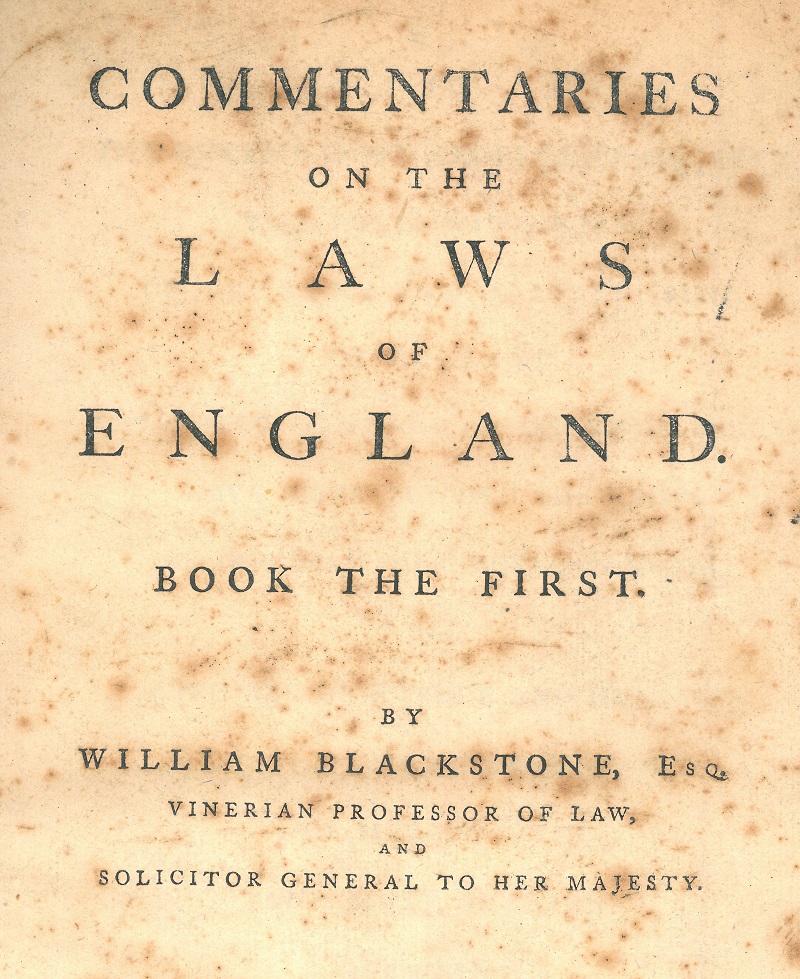Por Pedro Henrique Reschke, Advogado e Professor do CESUSC
What seems most special about Common Law jurisdictions is that they have a great deal of case law that is not about the interpretation of legislation. It is only about the interpretation of other case law.”[1]
I – Introdução;
O Brasil está se transformando num país de common law – ou, pelo menos, essa é a conclusão atingida por muitos dos estudos recentes de direito processual civil. Ao interpretar o significado do reconhecimento da importância dos precedentes, em nível constitucional (Emenda Constitucional n. 45/2004) e infraconstitucional (CPC de 2015), parcela significativa da doutrina afirma estarmos diante de transformação da natureza do sistema jurídico brasileiro, que estaria abandonando suas origens de civil law rumo a uma versão tupiniquim do common law anglo-saxão.
Segundo Fredie Didier Jr., por exemplo, o Brasil teria sofrido tamanha influência do common law que não é mais possível considerá-lo um sistema exclusivamente civil law, mas uma espécie de sistema híbrido, um brazilian law[2]. Sergio Gilberto Porto fala na commonlawlização do sistema brasileiro em decorrência da adoção de institutos como a repercussão geral e a súmula vinculante[3]. Marinoni parte da premissa de que o respeito aos precedentes é um instituto típico do common law, ao qual o direito brasileiro tem necessidade de “se render”[4]. O Ministro Teori Zavascki afirmou publicamente que “caminhamos a passos largos para o common law”[5]. Essa “evolução” rumo ao common law é também mencionada em decisões judiciais, especialmente no âmbito dos tribunais superiores, como justificativa para a utilização de institutos como a uniformização de jurisprudência [6]e julgamento de demandas repetitivas.
Claro, essas vozes não são unânimes; há também quem defenda opinião diversa: instituir o respeito a alguns precedentes e provimentos vinculantes não significa modificar a natureza de um sistema jurídico. Mas, de forma geral, é possível identificar no imaginário jurídico brasileiro uma associação forte entre vinculação às decisões judiciais – de qualquer natureza – como algo que não nos pertence. Qualquer coisa além da perspectiva decisionista do livre convencimento é tida como incompatível com nosso sistema, pelo que seria veemente a necessidade dessa reforma “importada” do common law. A salvação está lá fora.
Este trabalho defende que o Brasil não caminha para o common law, e que isso não é apenas um problema semântico. Dizer que o Brasil está se tornando common law é cometer, pelo menos, dois erros fundamentais. Em primeiro lugar, significa adotar uma concepção excessivamente reducionista de civil law e de common law. Segundo, e mais grave, significa emprestar ao “sistema brasileiro de precedentes”[7] uma legitimidade material que não é automática, mas precisa ser conquistada na prática.
II – Os sistemas jurídicos do mundo ocidental;
O conceito de sistema jurídico, no direito comparado, tem um propósito eminentemente classificatório. Não é o mesmo que falar em sistema jurídico no contexto do estudo de um determinado ordenamento jurídico. Nesse caso, a expressão ganha um significado distinto, referindo-se ao conjunto de normas vigentes dentro de um determinado país; aqui, a expressão sistema jurídico pode ser tomada como sinônimo de ordenamento jurídico.
Já no direito comparado, sistemas jurídicos são modelos ideais, baseados nas principais características que se apresentam em ordenamentos jurídicos distintos. Assim, dizer que determinado país adota um sistema de civil law não significa dizer que ele seja exatamente igual aos outros que compõem o mesmo sistema. Falar em sistemas ou tradições jurídicas significa sacrificar peculiaridades em nome de possibilidades de diálogo comparativo, moldando alguns arquétipos básicos baseados em padrões reconhecíveis em um grupo de sistemas semelhantes. Mirjan Damaska compara a atividade de classificação dos sistemas jurídicos à classificação de obras de arte em determinados estilos. Ninguém dirá, por exemplo, que a catedral de Notre Dame não pertence ao estilo gótico em razão da falta de pináculos, pois o restante de sua estrutura é formado por elementos que indicam aproximação com o arquétipo da arquitetura gótica[8].
Assim, afirmar que o Brasil e a França são ambos países de civil law, por exemplo, não serve para nada além de passar algumas informações muito elementares sobre as principais características dos dois sistemas jurídicos. Na prática, existem diferenças gritantes entre os dois – o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro tem grandes inspirações anglo-saxãs, por exemplo – mas nem por isso eles deixam de ser países de civil law. Tal classificação envolve, além de um enquadramento geométrico de determinado ordenamento no sistema-tipo, a direção do desenvolvimento histórico de cada país. A questão, em suma, é de tradição jurídica.
O arquétipo, assim, serve para descrever características gerais de todos os ordenamentos jurídicos que nele se enquadram, mas não serve para entender com precisão nenhum deles. É com esse conceito de “sistema jurídico”, entendido como modelo ideal e não como um conjunto de regras rígidas, que se trabalhará no restante deste estudo.
III – Ser common law não é apenas respeitar precedentes – e vice-versa;
O sistema inglês foi construído, desde o fim do absolutismo no século XIII, a partir da ideia da judge-made law, embora o reconhecimento e a efetiva aplicação da doutrina do stare decisis seja muito mais recente – apenas em 1898 a House of Lords reconheceu expressamente a obrigação de respeitar seus próprios precedentes[9].
Nos países anglo-saxões não há termos distintos para o direito e para a lei. Ambos são law. E há diversos tipos de law – diversos sistemas, no sentido interno – dentro de cada um desses países. Há o direito legislado (statute law). Há o direito casuístico (case law), mais propriamente alinhado com aquilo que chamamos de direito jurisprudencial. E há o direito costumeiro (costumary law)[10]. Todos eles fazem parte do direito positivo dos países que adotam o sistema de common law. Mas os dois últimos formam, mais propriamente, a common law, como sistema autônomo, paralelo ao direito legislado – de modo que um jurista americano ou inglês, deparando-se com uma questão problemática, poderá buscar a solução para determinada questão de direito na lei legislada ou na common law. Há, então, um corpo autônomo de direito positivo, que vem exclusivamente da tradição, construído a partir de interpretações da lei escrita e dele próprio (pois a principal característica do common law é que ele se constrói com base em interpretações jurisprudenciais de decisões anteriores); e também há um outro corpo, de direito legislado[11].
Assim, os países anglo-saxões não só são países de common law, como também possuem uma common law, ou seja, um conjunto de normas construídas paulatinamente por meio do respeito a costumes e decisões judiciais vinculantes. O stare decisis não se impõe de uma hora para outra, mas surge organicamente no meio desta tradição jurídica previamente formada. Por isso, quando a House of Lords inglesa reconheceu a obrigação de seguir seus próprios precedentes pela primeira vez em 1898, não o fez num vácuo ideológico. Reconheceu-se que o stare decisis já era uma tradição secular, baseada no respeito ao corpo pré-existente de princípios jurídicos consolidados pela tradição de respeito às decisões anteriores, embora só naquele momento recebesse menção expressa[12].
Embora impere na prática a associação entre common law e precedentes – “o common law facilmente vislumbrou que a certeza jurídica apenas poderia ser obtida mediante o stare decisis”[13], afirma Marinoni –, é preciso destacar que não há convergência absoluta entre common law e judge-made law. O sistema é caracterizado por outras peculiaridades: estilo discursivo, atitude dos juristas, estrutura organizacional[14]. De acordo com os modelos apontados por Damaska, a common law, em linhas gerais, tem uma estrutura colaborativa, ao invés de hierárquica, pois o processo costuma ser oral, realizado num só ato – o trial – e se resolver em apenas um grau de jurisdição; o acesso às vias recursais é mitigado e não ocorre dentro do mesmo eixo procedimental. A formação daquilo que chamaríamos de autos (embora o processo não possua, via de regra, a mesma representação física) é de responsabilidade dos advogados, que apresentam as provas e argumentos oralmente perante o juiz[15]. Enfim: o common law tem peculiaridades que vão muito além de um enfoque maior da lei criada pelo magistrado.
Aliás, mesmo sob esse ponto de vista, a relação entre common law e o stare decisis não é imune a críticas. Primeiro porque, apesar das centenas de anos de tradição, ainda não existe uma obra definitiva sobre a natureza do precedente judicial, nem sobre a origem da autoridade vinculante, que ainda são frequentemente investigadas[16] (especialmente porque a vinculação é um dado, um fato pré-existente, que os filósofos do common law buscam investigar – rigorosamente o contrário do que ocorre no sistema brasileiro, onde a autoridade vinculante é algo que não existe e se pretende implementar). Em segundo lugar, porque a superioridade do stare decisis como fonte de previsibilidade e segurança jurídica não é incontroversa. Jeremy Waldron, professor da NYU, é crítico contundente da previsibilidade trazida por precedentes que só são interpretados à luz de casos subsequentes, ao invés de estabelecer regras gerais e abstratas[17] (resgatando, assim, a clássica crítica de Bentham, equiparando o direito jurisprudencial a regras de comportamento canino – dog law).
No nosso contexto atual, que vê nos precedentes uma espécie de válvula de escape necessária e inevitável para o problema da jurisprudência lotérica, parece estranho saber que o precedente judicial é um fenômeno ainda incompreendido dentro do próprio common law. Igualmente peculiar é descobrir que há correntes sérias de pesquisa nos países anglo-saxões defendendo uma mitigação do stare decisis em favor do fortalecimento de uma codificação nos moldes do civil law – não seria esse, exatamente, o nosso problema? Isso deve ser interpretado como sinal claro de que o common law não é um sistema fechado, que já resolveu todos os seus problemas. A doutrina do precedente – que cogitamos importar e instaurar por meio de lei no nosso sistema – ainda vem sendo constantemente trabalhada e aprimorada na prática. Ela não é um “ponto final” no sistema do common law, e nem poderá ser vista como tal dentro do ordenamento brasileiro.
IV – A tradição jurídica brasileira e o impacto das decisões vinculantes;
Demonstrou-se o que é um sistema jurídico, na ótica do direito comparado, e expuseram-se as principais características dos sistemas de common law, enquanto arquétipos ideais. Falta analisar, então, se é realmente nisso que o Brasil está se transformando – se é que está se transformando mesmo em alguma coisa.
Estudar para onde vai o Brasil exige que se entenda de onde ele parte. Zaneti Jr. aponta um “paradoxo metodológico” desde a origem do nosso sistema: a nossa ordem político-constitucional é de veia republicana e federativa, inspirada no modelo norte-americano, enquanto os demais ramos do direito infraconstitucional, privado e público (inclusive o direito processual), são tipicamente romano-germânicos[18]. Apesar dessa construção mista, que poderia levar à compreensão de que já seríamos um pouco common law, é essa veia romano-germânica que inspira o funcionamento e o método do nosso Judiciário. Por isso, é possível classificar o direito brasileiro, assim como os demais sistemas jurídicos latino-americanos, como um sistema de civil law.
De fato, o sistema brasileiro é influenciado pela visão positivista focada no Poder Legislativo como foco produtor de normas jurídicas, decorrente da Revolução Francesa, da aplicação neutra e imparcial do direito pelo juiz, que se limitava a simplesmente ditar a vontade concreta da lei – que, por sua própria natureza, era um texto geral e abstrato[19]. Nesse sentido, o magistrado não teria poder interpretativo nem criador do direito. Caberia aos representantes políticos diretos da população a criação prévia das normas, que ao juiz e ao Poder Judiciário cumpriria apenas dar efetividade, através da subsunção dos fatos do caso concreto à prescrição normativa. Essa visão foi também defendida por Jeremy Bentham, filosófo inglês, que era irretratável crítico do sistema de precedentes e defensor de uma codificação completa, nos moldes do que a França pós-revolucionária pretendia com seu Code Napoleon (a posição de Bentham acabou superada pela prática do common law, embora suas críticas ao sistema de precedentes tenham, curiosamente, ajudado a moldá-lo[20]).
A base filosófica brasileira, assim, não é a de criação do direito pelos tribunais, mas a da crença na univocidade da lei e do juiz como mero aplicador neutro do direito. Nosso sistema é construído tendo por base a legitimidade democrática do direito produzido pelos representantes do povo, e no juiz enquanto aplicador. Por outro lado, o avanço da teoria do direito dos países de civil law, apoiado nas concepções interpretativas pós-positivistas, reconheceu a impossibilidade de aplicar o texto normativo como tendo sentido em si próprio.[21] A renovada força das decisões judiciais – que levou alguns teóricos a falarem em legisprudence, que não é nem só legislação, nem só jurisprudência – é decorrência desse fenômeno.
Além de uma necessidade teórica, decorrente da necessidade de tratar o jurisdicionado com isonomia e diminuir o efeito nocivo das decisões judiciais fragmentadas, a atenção à força da jurisprudência no civil law brasileiro também é uma forma de lidar com a litigiosidade repetitiva que prejudica o bom funcionamento do Poder Judiciário.
Desde 1963, quando foi criado o instituto das súmulas, já se fala na recepção da fórmula do stare decisis pelo ordenamento brasileiro[22]; os principais comentários e justificativas doutrinárias para os institutos da repercussão geral e da súmula vinculante, tidos a partir da Emenda Constitucional n. 45/2004, também afirmavam serem ambos institutos de veia tipicamente anglo-saxã. E o CPC de 2015, especialmente em seus arts. 926 e 927, instituiu um rol de provimentos judiciais que são vinculantes para o órgão que os proferiu e aqueles hierarquicamente subordinados. Trata-se, assim, da coroação de uma tendência decorrente da evolução histórica natural do sistema brasileiro.
Esse conjunto de decisões vinculantes, estruturados como normas jurídicas emitidas pelo Judiciário, põe em conflito duas concepções de precedente: de um lado, garantidor da isonomia formal, e, de outro, um modo de resolver rapidamente causas repetitivas que afogam o Judiciário, – conflito que pode também ser posto como uma contraposição entre racionalidade da decisão judicial e segurança jurídica do precedente. O precedente com força vinculante ope legis, estruturado por meio de provimentos judiciais obrigatórios (sem atenção às razões fundamentais de decidir), é emblemático dessa segunda concepção. Em linhas gerais, é esse o estado da arte do precedente judicial no Brasil; resta investigar, então, se esse “desvirtuamento” do civil law padrão é razão suficiente para se dizer que o Brasil estaria passando por uma transformação sistêmica.
V – O Brasil não está se transformando em common law;
A pretensão de diferenciar common law e civil law simplesmente pela origem da norma jurídica – construída judicialmente no primeiro caso e pela lei escrita no segundo – é tentadora pela simplicidade e pela didática. Essa diferença básica de fato existe, mas é uma questão cultural, muito mais do que um problema simples de fonte do direito. Definir o common law pela falta de um código legislativo organizado é aderir a um modelo ideal de common law que não corresponde à realidade daqueles países. Trata-se, em suma, de uma solução elegantemente errada para um problema complexo. A produção legislativa no common law nos últimos anos tem sido significativa, a ponto de a lei feita unicamente pelos juízes hoje constituir a exceção, não a regra[23]. Paralelamente, sistemas de civil law – como o Brasil[24] e outros países da Europa continental[25] – vêm aumentando a confiança que depositam nas decisões passadas dos tribunais como fonte de direito.
À primeira vista, então, a divisão pelo ponto de vista lei vs. precedente não é suficiente para dar conta da diferença entre os dois sistemas. Segundo Taruffo, o mesmo se pode dizer de outro critérios tradicionais de separação, que contrapõe os sistemas de civil law e common law como predominantemente orais ou escritos, respectivamente; ou, ainda, com olhos ao tipo de processo, se adversarial ou inquisitorial[26].
Assim como a dicotomia de fontes, essas oposições simples não dão conta de toda a complexidade que separa os dois sistemas. As diferenças entre os dois são históricas e comportamentais, vinculadas ao modo como cada um deles foi construído, e a como se enxerga e se aplica o direito e os precedentes. Talvez a principal característica que realmente diferencie os dois sistemas, pelo menos do ponto de vista da aplicação do direito, seja a cultura argumentativa construída nos países de common law como requisito para a adequada operacionalização da cultura de precedentes[27], desenvolvida em torno do centenário corpo de decisões que formam a “lei comum” da Inglaterra. Reconhecem-se os precedentes não como uma fonte de vinculação formal (como se pretende fazer no Brasil), mas como forma de construir, dentro do ordenamento jurídico, coerência e coesão, evitando que a jurisprudência se torne, nas palavras de Neil MacCormick, uma “selva de exemplos isolados”[28]. O advogado do common law aprendeu a se apegar não à literalidade do texto dos precedentes ou à norma geral e abstrata enunciada pelo juiz que resolveu aquele caso, mas às razões fundamentais de decidir. O que vincula é aquilo que foi efetivamente decidido, não o que foi dito[29].
Há diferenças fundamentais entre as ferramentas de objetivação processual adotadas pelo legislador brasileiro e um real sistema argumentativo de precedentes que se preocupe com a construção da decisão judicial com integridade[30]. Na verdade, a própria ideia de precedente dos países de common law não é compatível com o modelo brasileiro trazido pelo CPC de 2015. Um juiz inglês jamais encontrará um dispositivo legal que expressamente o obrigue a seguir determinado entendimento esposado pela House of Lords, mas provavelmente não se afastará do precedente, por entender o valor principiológico do tratamento uniforme dos jurisdicionados. A regra do precedente, por ser racional e argumentativa, é sempre falseável[31]. Enquanto isso, o juiz brasileiro que se deparar com algum pronunciamento vinculante, deverá acompanhar aquele entendimento, por força da disposição normativa. Essa é a primeira e mais elementar das diferenças – mas, por si só, nada significa. Não é difícil imaginar um efetivo sistema de precedentes que tenha sua gênese numa disposição normativa, desde que seja aplicado racional e argumentativamente.
A real diferença reside no método. Os provimentos vinculantes no direito brasileiro se estruturam como enunciados normativos. Não há preocupação com as razões que levaram o juiz a tomar determinada decisão, nem com os princípios jurídicos que o orientaram, mas apenas com o resultado final do julgamento, traduzido – pelo próprio julgador – num enunciado geral e abstrato, nos moldes de uma norma. Como se esse enunciado judicial fosse resultado de um processo de interpretação da lei e não dependesse, ele próprio, de interpretação[32]. Trabalhamos com precedentes da mesma forma que trabalhamos com a lei, esperando, no fundo, que a aplicação do precedente se dê por mera subsunção. Evoluímos, assim, do “juiz boca-da-lei” ao “juiz boca-da-súmula”. Por isso, a figura das súmulas, assim como das súmulas vinculantes, acoplou-se com facilidade ao imaginário jurídico brasileiro, criando como que um “stare decisis à brasileira”.
Enquanto isso, a aplicação dos precedentes no common law é argumentativa: o que vincula os casos subsequentes não é uma regra geral anunciada pelo juiz do precedente, mas a razão fundamental de decidir (ratio decidendi), que cabe ao julgador do caso futuro extrair. Assim, tal aplicação é necessariamente prática e argumentativa: ao juiz não basta aplicar uma resposta pré-moldada, mas sim estudar os princípios que orientaram a decisão anterior e aplicá-los, de forma coerente, ao caso atual[33]. Essa cultura argumentativa, preocupada com a coerência e coesão das decisões, é o elo faltante para que possamos efetivamente falar num “sistema brasileiro de precedentes”[34], e não apenas numa lista de decisões que são isoladamente vinculantes.
Isso não pressupõe que estejamos nos tornando, muito menos que precisemos nos tornar, um país de common law. Precisamos – isso sim – desenvolver uma cultura argumentativa de precedentes coerente com o nosso civil law[35]. De outro lado, nos contentaremos com um “sistema de precedentes” voltado não à construção do direito com integridade e coerência interna, mas como mera técnica de julgamento de casos repetitivos, que afoga as peculiaridades de cada caso concreto e, junto com elas, o próprio direito.
Decidir com racionalidade sistêmica não é requisito operacional de uma ou de outra família jurídica específica, mas pressuposto lógico universal. O direito não pode servir apenas para resolver os problemas do Poder Judiciário; a administração da justiça não pode se transformar num fim em si própria. Por isso, afirmar que o Brasil se tornou common law é uma grave indução a erro, porque se faz crer que essa cultura argumentativa já teria sido alcançada. É como dizer que a vinculação decisória de origem normativa teria o condão de fazer com que as coisas aqui se tornassem iguais às coisas lá, desonerando o operador jurídico do compromisso intelectual necessário para resolver os nossos problemas, que são peculiares e exclusivamente nossos.
Isso porque a tal “jurisprudência lotérica” não é um problema isolado. Está inserida num contexto muito maior, de crise do próprio direito. O que se põe em jogo é a própria legitimidade das decisões judiciais, que decorre da falta de fundamentação racional, e transforma a decisão num ato não de direito, mas de poder. O jurisdicionado se vê na angustiante situação de não saber o que diz o direito, porque a lei, por si só, nada vale – o que, em ampla medida, se relaciona com o fenômeno da inflação legislativa, típico do final do séc. XX e do começo do séc. XXI: é muito difícil extrair sentido de uma produção legislativa extensa, fracionada e contraditória[36]. A integridade da jurisdição depende, também, de que haja integridade na produção legislativa[37]. Nesse cenário de incerteza, a interpretação crítica, feita pela doutrina e pelos advogados, cede espaço à interpretação “oficial”, realizada pela magistratura. Revestida pela coisa julgada e dotada de força vinculante, a interpretação dada pelo Judiciário se desobriga de tentar construir consenso racional sobre as respostas dadas às questões legais. Um cenário onde pouco importa o que a lei diz; importa o que os juízes dizem que ela diz – e , sem um módico de controle racional, vale dizer “qualquer coisa sobre qualquer coisa”[38].
E a solução que o sistema propõe para esse problema é tornar vinculantes e indiscutíveis esses mesmos provimentos judiciais. Tudo sob o manto legitimador da ideia de que funciona assim no common law, e funciona bem, então funcionará bem aqui. É uma solução confortável a curto prazo, admite-se. Num cenário onde o mosaico de entendimentos jurisprudenciais não permite que se conheça adequadamente o que é a lei vigente no país, a fixação de uma tese, qualquer que seja, traz segurança jurídica. Mesmo que não represente a melhor resposta, nem tenha legitimidade racional, ela resolve a divergência, por ter força vinculante legal. Pode não ser a melhor resposta, mas é alguma resposta, situação mais vantajosa do que o cenário fracionado e imprevisível que temos hoje.
Em meio à crise na construção de respostas judiciais adequadas, que põe em xeque a própria legitimidade da jurisdição[39], não há nem segurança jurídica, nem consenso racional em torno das decisões judiciais. Mas a solução adotada pelo CPC, estabelecendo força vinculante a alguns precedentes, parece privilegiar apenas o primeiro, esquecendo-se do segundo. Será extremamente nocivo ao sistema jurídico nacional, a longo prazo, que nos contentemos com qualquer estabilidade, só porque hoje não a temos; é preciso sempre buscar a melhor resposta para qualquer questão judicial, coordenando as tensões entre segurança jurídica e racionalidade, mencionada acima – ou, o que dá no mesmo, entre facticidade e validade[40] das decisões judiciais.
Por isso, é preciso defender com veemência que o Brasil não está trocando de tradição jurídica. Evitamos, assim, o erro de estudar os precedentes vinculantes daqui com uma simples exposição de como eles funcionam lá – como se apreender os conceitos de ratio decidendi e distinguishing e overruling a partir de autores americanos e ingleses fosse suficiente para compreender a nossa jurisprudência vinculante, esquecendo a enorme diferença metodológica e cultural que existe entre os dois sistemas. O rol de provimentos vinculantes do art. 927 do CPC não é um instituto derivado do common law, mesmo que a inspiração da entidade abstrata que chamamos de “o legislador” tenha sido o modelo anglo-saxão de stare decisis. Há uma enorme diferença entre importar um conceito jurídico e construir um conceito jurídico novo com inspiração em alguma experiência estrangeira. Disso se retira a atenção redobrada que o jurista brasileiro deve ter com os conceitos operacionais de superação e, especialmente, de distinção do precedente, alinhando-os a uma evolução dos estudos interpretativos da própria lei.
A solução, se é que há, não está muito longe. É preciso aplicar o código como um todo, não em tiras. Não existe art. 927 (rol de provimentos vinculantes) sem art. 926 (dever de estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência). Não existe sistema de precedentes sem preocupação em construir, argumentativamente, respostas judiciais que guardem coerência e integridade principiológica, extraindo motivos determinantes e realizando distinções e superações quando for adequado (art. 489, § 1º). Obrigação do juiz, das partes, do Ministério Público – de todos os atores processuais. Dever de cooperação, enfim (art. 6º).
Nada disso nos obriga a importar qualquer coisa do common law. Está tudo lá, no próprio CPC. Basta aplicá-lo.
Em suma: existe um abismo de diferença entre afirmar, como fazem Marinoni[41] e Zaneti Jr.[42], que existe uma convergência teórica e metodológica entre os dois sistemas, em relação a alguns de seus institutos fundamentais, e dizer que está havendo uma efetiva transformação, e que, a partir do CPC de 2015, podemos passar a estudar o Direito no Brasil como se estivéssemos na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Colocando da primeira forma, convidamos um estudo dos institutos argumentativos muito bem desenvolvidos no common law e observamos os cuidados constantes daquele sistema com a legitimação racional do processo decisório, que contrastam violentamente com a pretensão padronizadora do processo civil objetivo brasileiro. Se, por outro lado, entendermos que houve uma transformação, corremos o risco de nos satisfazermos com o estado atual de coisas, privando o sistema do necessário choque paradigmático que força a adaptação intelectual.
VI – Conclusão;
Este breve ensaio não deve ser tomado como um ataque a qualquer associação didática entre o sistema brasileiro e o common law, nem, muito menos, como uma cruzada contra autores e autoras defensores dessa guinada metodológica. Pretendi fazer, na verdade, uma ressalva metodológica: não estamos importando nenhum instituto do common law. Os precedentes construídos no Brasil a partir do nosso sistema, e para o nosso sistema, não podem ser justificados pelas mesmas razões que levaram os juízes da Inglaterra do séc. XII a respeitar as decisões anteriores, nem podem ser explicados a partir de teorias pensadas internamente para o modelo americano.
Necessária ressalva: isso não quer dizer que não possamos estudar obras de hermenêutica, argumentação jurídica e teoria do direito escritas por autores anglo-saxônicos. Obras que estudam o fenômeno jurídico com um ponto de vista externo são leitura essencial para se construir adequadamente o processo argumentativo, pois os esquemas lógico-argumentativos são universais – e, nesse sentido (especificamente nesse sentido), a diferença entre civil law e common law não existe[43]. É preciso ter cuidado, apenas, para diferenciar corretamente teorias gerais do direito das teorias que são particulares a um determinado ordenamento – diferenciar teorias gerais do direito de teorias particulares, referíveis apenas a determinado ordenamento jurídico[44] – para que não se cometa erro equivalente a tentar explicar um problema matemático usando regras e parâmetros da biologia.
O que se propõe, assim, é que os estudos sobre precedentes tenham em mente as peculiaridades do nosso sistema. Analisar com parcimônia as aproximações teóricas, tendo a frieza de não as tratar como nada além disso. Não temos, afinal de contas, uma tradição consuetudinária forte. Dizer que os juízes passam a ter o poder de criar normas não é permitir ao Judiciário que construa o direito sobre uma tabula rasa, mas tentar trazer mais racionalidade para nosso sistema jurídico como um todo, através da uniformidade das decisões judiciais. É preciso, porém, respeitar as peculiaridades da nossa tradição, ainda baseada na supremacia da lei escrita, e não transformar a palavra do Judiciário em palavra final só porque as decisões transitam em julgado e têm força vinculante. Buscar a melhor respostas e não apenas qualquer resposta para questões jurídicas difíceis, fundamentada e racionalmente.
É preciso, em suma, levar o direito – o nosso direito – a sério.
[1] GARDNER, John. Some types of law. In: EDLIN, Douglas (org.). Common law theory. Nova York (EUA): Cambridge University Press, 2007, pp. 74-75.
[2] DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: JusPodivm, 2016. 18ª ed, p. 61.
[3] PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a common law, civil law e o precedente judicial. Academia Brasileira de Direito Processual Civil, p. 3. Disponível em http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/sergio%20porto-formatado.pdf. Acesso em 30/03/2016.
[4] MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2016. 4ª ed, pp. 24.
[5] CANÁRIO, Pedro. “Caminhamos a passos largos para o common law”, afirma Teori Zavascki. Consultor Jurídico, 10 de novembro de 2015. Disp. em http://www.conjur.com.br/2015-nov-10/caminhamos-passos-largos-common-law-teori-zavascki. Acesso em 30/07/2016.
[6] No âmbito do STJ, essa ligação entre precedentes e common law não é inedita, sendo frequentemente encontrada em acórdãos relatados pelo Min. Luiz Fux. Ver, por exemplo, os recentes recursos especiais n. 1.111.743 (STJ, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. em 25.02.10), onde se afirma que “a estratégia político-jurisdicional do precedente, mercê de timbrar a interpenetração dos sistemas do civil law e do common law, consubstancia técnica de aprimoramento da aplicação isonômica do Direito, por isso que para ‘casos iguais’, ‘soluções iguais’ ”, e 1.131.718 (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.03.10), que dispõe: “A isonomia fiscal impõe a submissão da orientação desta Corte ao julgado do Pretório Excelso, como técnica de uniformização jurisprudencial, instrumento oriundo do Sistema da Common Law, reiterando a jurisprudência desta Corte (…)”. São apenas alguns exemplos: basta buscar os termos stare decisis ou common law no sistema de pesquisa jurisprudencial das Cortes Superiores para encontrar inúmeros julgados semelhantes.
[7] Entre aspas porque a própria existência de um tal sistema é controvertida – fala-se, antes, que o CPC/2015 apenas criou um rol de decisões vinculantes que não formam um “sistema” ordenado de precedentes, como se verá no item 5.
[8] DAMASKA, Mirjan. The faces of justice and state authority. New Haven (EUA): Yale University Press, 1986, p. 5
[9] MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2016. 4ª ed, p. 29.
[10] O direito costumeiro não se confunde com o case law porque nem todos os costumes judiciais podem ser diretamente derivados de um caso específico. Alguns deles são rotineiramente respeitados simplesmente porque são. É o exemplo da própria doutrina do stare decisis, que já era seguida mesmo antes de ser expressamente enunciada em 1898.
[11] GARDNER, John. Some types of law. In: EDLIN, Douglas (org.). Common law theory. Nova York (EUA): Cambridge University Press, 2007, pp. 52-75.
[12] DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Nova York (EUA): Cambridge University Press, 2008, pp. 125-126.
[13] MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. Novíssimo sistema recursal conforme o CPC/2015. Florianópolis: Conceito, 2015, p. 148.
[14] SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge, Massachussetts (EUA): Harvard University Press, 2009, p. 108.
[15] DAMASKA, Mirjan. The faces of justice and state authority. New Haven (EUA): Yale University Press, 1986, pp. 47-69.
[16] Ver, por exemplo, obra do professor inglês Neil Duxbury, inteiramente voltada a descobrir o que é um precedente judicial e porque os tribunais se sentem obrigados a respeitá-lo (DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Nova York (EUA): Cambridge University Press, 2008).
[17] WALDRON, Jeremy. Jeremy. Stare decisis and the rule of law: a layered approach. Michigan Law Review, Michigan (EUA), v. 111, n. 1, 2012. 31 p.
[18] ZANETI JR, Hermes. A constitucionalização do processo: o modelo constitucional da justiça brasileira e as relações entre processo e constituição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 16.
[19] MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2016. 4ª ed, p. 43.
[20] SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge, Massachussetts (EUA): Harvard University Press, 2009, p. 150.
[21] STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 310.
[22] ZANETI JR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 192.
[23] SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge, Massachussetts (EUA): Harvard University Press, 2009, pp. 104 e 149.
[24] MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. Novíssimo sistema recursal conforme o CPC/2015. Florianópolis: Conceito, 2015. p. 149.
[25] STEINER, Eva. Theory and practice of judicial precedent in France. In: DIDIER JR., Fredie, et. al. Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015 (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 3). pp. 21-48.
[26] TARUFFO, Michelle. Processo civil comparado: ensaios. São Paulo: Marcial Pons, 2013. pp. 15-16.
[27] BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A dificuldade de se criar uma teoria argumentativa do precedente judicial e o desafio do Novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie, et. al. Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015 (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 3). pp. 21-48.
[28] MACCORMICK, Neil, Argumentação jurídica e teoria do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 243.
[29] O professor Adam Geary, da University of London, destaca que a cultura do precedente é uma “cultura de argumentação”, que só pode ser entendida à luz de sua aplicação prática. O precedente é prática, sempre em evolução. O estudo da doutrina de precedentes, assim, deve se dar pela leitura de casos; qualquer tentativa de abstrair uma teoria geral, prescritiva e não descritiva, corre o risco de deturpar a real natureza da argumentação com precedentes (UNIVERSITY OF LONDON INTERNATIONAL PROGRAMMES. Common law: The role of precedent, LLB Study Weekend 2011. Disp. em https://www.youtube.com/watch?v=1eBzHKw1wpE. Acesso em 30/07/2016).
[30] A ideia de direito como integridade vem de Dworkin (DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Oregon (EUA): Hart Publishing, 1986, passim, especialmente 176-275). Rotineiramente tido pelos juristas brasileiros como um pós-positivista precursor da ideia de que o magistrado pode decidir a partir de princípios – entendidos como valores pessoais – que derrogariam até mesmo a própria lei, o trabalho de Dworkin representa rigorosamente o oposto disso. Dworkin é totalmente avesso à ideia de poderem existir várias respostas igualmente válidas para uma mesma questão legal, e que um juiz adote uma entre diversas posições válidas apenas por razões de convicção pessoal. Assim, o autor buscou exatamente criar uma teoria do direito que explicasse a constante busca dos juristas pela resposta correta para qualquer caso, inclusive os casos difíceis, sem recorrer às noções positivistas de discricionariedade judicial. Recorre, para tanto, às noções de responsabilidade do intérprete e de reconstrução de um direito coerente com o conjunto de princípios historicamente adotados para a solução de casos passados – essa a ideia de direito como integridade. Analisando a tese de Dworkin, Habermas aponta, com precisão, que a teoria de Dworkin é fruto de seu meio: “Por ser americano, Dworkin pôde apoiar-se num desenvolvimento constitucional contínuo que já dura mais de duzentos anos; por ser liberal, ele está inclinado a uma avaliação mais otimista, descobrindo processos de aprendizagem na maior parte do desenvolvimento jurídico norte-americano” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, v. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 266). Pode parecer uma observação despropositada, mas demonstra a necessidade de contextualizar as teorias e métodos do common law ao meio em que se desenvolveram. Não basta importá-las de forma mecânica e acrítica: foi o que aconteceu com a teoria principiológica de Dworkin; é o que pode acontecer no futuro com uma má-leitura da teoria dos precedentes.
[31] SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge, Massachussetts (EUA): Harvard University Press, 2009, pp. 104-105.
[32] ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio. O NCPC e os precedentes – afinal, do que estamos falando? In: DIDIER JR., Fredie, et. al. Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015 (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 3), pp. 115-120.
[33] Com destaque ao que se disse na nota anterior: princípios no sentido de diretrizes lógicas que podem ser racionalmente extraídas de decisões judiciais ou legislativas tomadas anteriormente, a fim de construir uma decisão judicial coerente com o todo do ordenamento, não no sentido de valores morais, que decorrem apenas das convicções pessoais do julgador.
[34] Lenio Streck e Georges Abboud falam num “genuíno sistema de precedentes do common law” (ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio. O NCPC e os precedentes – afinal, do que estamos falando? In: DIDIER JR., Fredie, et. al. Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015 (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 3), p. 176), para diferenciá-los do sistema de vinculação a algumas decisões isoladas. Embora a expressão esteja correta, é preciso ter cuidado ao interpretá-la, para não se imaginar que um genuíno sistema de precedentes só seria possível num sistema de common law. Associar o “genuíno” precedente de forma tão indelével ao common law pode conduzir exatamente à falácia que se pretende desconstruir – quer dizer, a visão de que o Brasil, para se tornar racional, precisa mudar a própria natureza de seu sistema jurídico. Pugna-se exatamente pela construção do “genúino precedente” também no Brasil, através do reconhecimento de que, apesar das diferenças metodológicas existentes entre os dois sistemas, os padrões discursivos são universais, bem como o requisito da integridade.
[35] Alguns autores indicam que o CPC de 2015, especialmente por instituir expressa vedação ao uso não-argumentativo dos precedentes (art. 489, § 1º, V e VI), representa um passo importante nesse sentido – como Thomas Bustamante, por exemplo (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A dificuldade de se criar uma teoria argumentativa do precedente judicial e o desafio do Novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie, et. al. Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015 (Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 3), p. 297). .
[36] FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, pp. 129-140.
[37] DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Oregon (EUA): Hart Publishing, 1986, p 167.
[38] STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. 11ª ed, p. 312.
[39] SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de respostas no processo civil. São Paulo: RT, 2015, pp. 184-185.
[40] HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, v. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, pp. 17-26.
[41] MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2016. 4ª ed, p. 79.
[42] ZANETI JR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes. Salvador: JusPodivm, 2014. pp. 348-352.
[43] ZANETI JR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 346.
[44] DIDIER JR, Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida. Salvador: JusPodivm, 2016. 3ª ed, pp. 91-92.